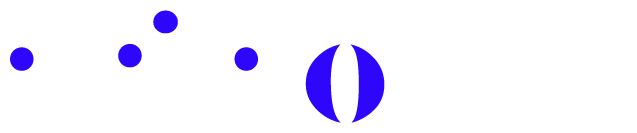O ano era 1976, e o diretor Brian de Palma reunia um elenco habilidoso para contar a história da garota, com poderes telecinéticos, vítima das chacotas dos colegas de escola (hoje o termo é conhecido como bullying).
Sissy Spacek (que recebeu uma indicação ao Oscar como melhor atriz na época), Piper Laurie (que também concorreu mas como atriz coadjuvante), Nancy Allen, Amy Irving e Jonh Travolta estrelaram um filme que se tornou referência para o gênero.
Esse segundo remake de “Carrie, a estranha” (sim, existe outro, e ele é de 2002, filmado para TV) ficou a cargo de Kimberly Pierce (“Meninos Não Choram”).
A diretora optou por deixar o suspense de lado. Realmente aquele clima de tensão, que vinha no primeiro filme, não existe nessa refilmagem.
Por outro lado, Kimberly trouxe um terror que carrega no lado dramático e traz nuances que abrem discussão para uma questão mais sociológica e psicológica.
Difícil não comparar os dois filmes. Porém, simplesmente relacioná-los como melhor ou pior, desmerece algumas contribuições que ambos podem trazer para sociedade.
Kimberly Pierce consegue se conectar com a geração atual. Apesar das poucas mudanças no roteiro, com relação ao primeiro filme, a diretora adapta bem o clima colegial e irresponsável da juventude de hoje. É um filme feito para esta geração, com uma linguagem e narrativa compreensíveis ao nosso tempo e tipo de público.
Na versão contemporânea, os vilões se configuram como sociopatas, além de justificarem o tempo todo seus atos, de acordo com os próprios valores e ética.
Repare bem na cena cruel em que os jovens invadem uma fazenda e caçam um porco para matá-lo, com objetivo de tirar o sangue do animal, que servirá de arma contra Carrie. Nesta parte, os diálogos trazem uma sensibilidade interessante de Kimberly que expressou bem a violência juvenil contemporânea.
Esse foco distoa da inocência transgressora dos antagonistas no filme de Brian de Palma, que inclusive também leva à vitimização de Carrie.
Portia Doubleday, no papel da “patricinha” mimada Chris Hangensen, é a representação mais fiel da cultura jovem atual. Por que será que Kimberly pegou uma atriz loira e a deixou tão parecida com a atriz problemática Lindsay Lohan?
Outro acerto é ter escalado atores que aparentam fisicamente jovens de colegial. Lógico que não há nenhuma atuação magnífica como víamos no filme do Brian de Palma, mas há de ressaltar que o time cumpre seu papel. Há um certo esforço em se interpretar um bando de adolescentes idiotas e bastante inescrupulosos.
Não há como fugir das comparações entre Sissy Spacek e Chloe Grace Moretz, que deram, cada uma, uma característica peculiar para a personagem Carrie.
Sissy Spacek conduziu uma garota mais introvertida e conseguiu atuar com pouquíssimos diálogos, dando enfase ao olhar e a expressão corporal, que magnetizavam qualquer espectador.
Chloe faz uma Carrie enigmaticamente perturbada psicologicamente. Para muitos, seus trejeitos podem parecer forçados, mas esse exagero sugere ser intencional. Outra grande diferença é que Carrie cresce ao longo da trama e reforça uma complexidade, não se torna vítima do contexto e, muitas vezes, sente prazer em vingar-se dos demais.
A personagem Margareth White, a mãe religiosa e opressora, também segue duas vertentes em ambos os filmes. Pipper Laurie marcou ao inserir a histeria e o fundamentalismo religioso nos seus rompantes hiperbólicos e emocionais. Já Julianne Moore traz uma mulher mais contida, sofrida e bem mais misteriosa psicologicamente.
Se, no primeiro filme, havia uma distância no relacionamento entre mãe e filha, nesta refilmagem se prioriza o confronto que combina duas personalidades doentias.
Pelo menos, há em comum a catarse do público para que Carrie realize sua vingança. E conhecendo o estilo de filmar de Kimberly Pierce, até nisso ela nos dá uma alfinetada.