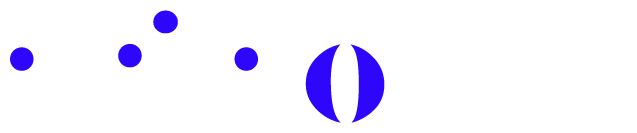Quem for ao cinema, esperando um filme de terror, vai se desiludir, pois A Bruxa (2015) está de longe de proporcionar uma série de sustos fáceis de assimilar.
O estreante Robert Eggers revelou-se um mago ao apostar em um thriller psicológico. Talvez sua formação em design tenha ampliado a visão como diretor e roteirista do filme. Esse jovem alquimista encanta pela destreza ao usar a estética e a trilha sonora para trabalhar o medo e o grotesco, sem cair em clichês.
Mesmo diante de uma narrativa lenta, o espectador é jogado num labirinto entrelaçado por questões sociais de uma época, que, por sinal, tem muito a ver com os tempos atuais.
A história se passa no século XVII, na Nova Inglaterra, onde uma família é julgada por heresia e, depois, exilada em uma floresta.
Os sete membros (o pai, a mãe e cinco crianças) são obrigados a lidar com o isolamento. Mas, quando começam a surgir eventos assustadores, os laços afetivos são colocados em xeque e a fé é levada a um nível catastrófico de neurose coletiva.
Até aí, Robert Eggers se assemelha, um pouco, à trama de As Bruxas de Salém (1996). Ao contrário do filme de Nicholas Hytner, aqui, a neurose coletiva é restrita a um grupo familiar.
Ela vira um círculo vicioso, pois é constantemente abafada e retroalimentada pela leitura que aquelas pessoas fazem dos eventos sobrenaturais. O que acaba virando uma enxurrada de acusações diagonais entre o casal e os filhos.
A grande sacada do diretor inclusive é usar as metáforas do misticismo pagão e inseri-las como crítica à religiosidade cristã ensandecida.
Por exemplo, nos momentos que uma das crianças se embrenha pela floresta, a sensação de liberdade ganha peso em detrimento ao ambiente claustrofóbico da cabana, besuntado em dogmas, onde a família praticamente vegeta em conflitos. E é no escuro que o medo e o encantamento duelam como elementos que rompem crenças.
Mas, apesar disso, Robert peca por trabalhar de forma tão confusa a representação da mulher na bruxaria. Por mais que tenha se baseado em contos daquela época, o acabamento dessa imagem poderia ter ido mais além. O sexismo, a opressão e a misoginia estão retratados ali, mas sem aprofundamento e sem romper amarras visuais hollywoodianas.
No entanto, há notáveis talentos mirins na atuação. A direção soube lapidar o desempenho de Any Taylor-Joy e Harvey Scrimshaw que alçam voos altos nos momentos mais dramáticos e tensos da história.
Será mera coincidência a semelhança física de Any Taylor-Joy com Paula Sheppard, que viveu a protagonista em Alice, Doce Alice (1976) ou Comunhão (péssimo título que o filme recebeu no Brasil)? Daria uma ótima referência à demoníaca criança desse filme do diretor Alfred Sole.
Demônios à parte, com certeza, o mais assombroso no filme de Robert Eggers não é o sobrenatural, e, sim, o nosso inconsciente.